DO PRÓPRIO VENENO
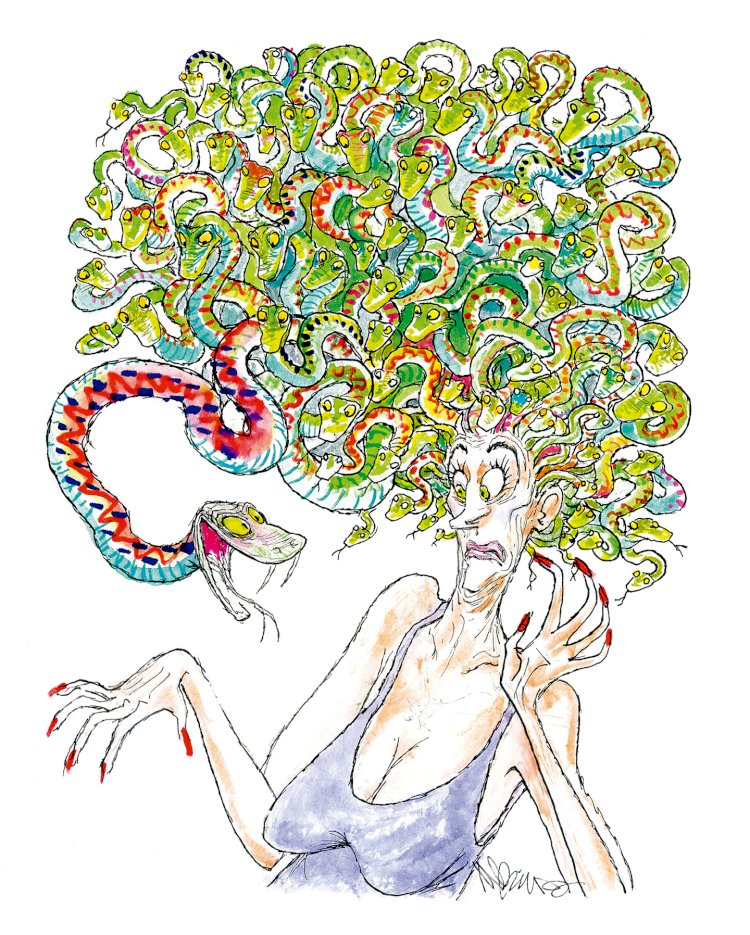
questões do extremismo
DO PRÓPRIO VENENO
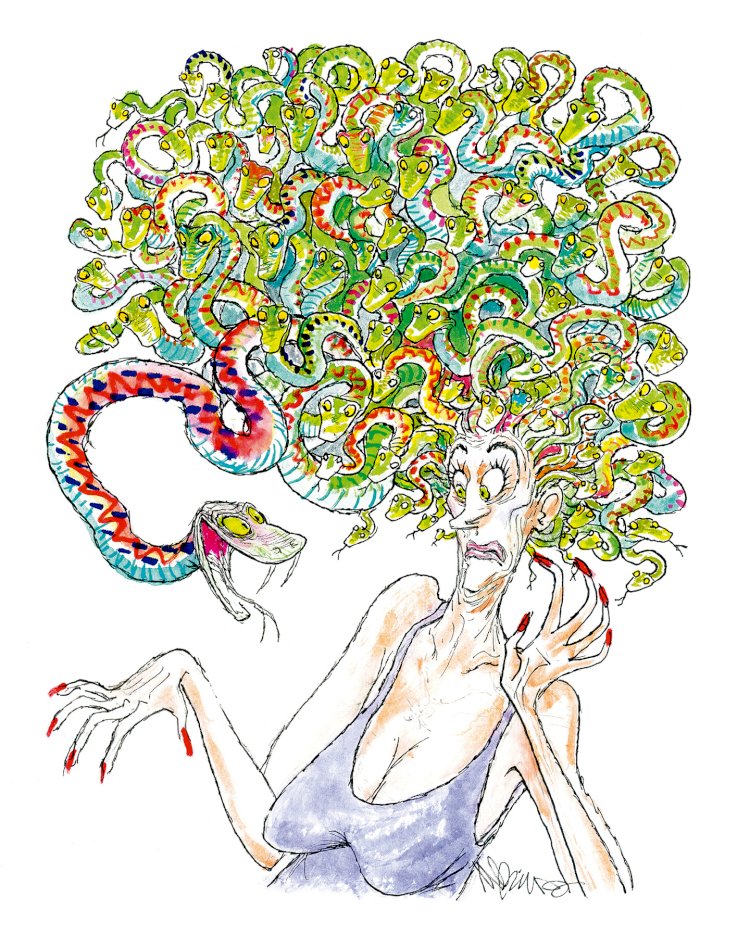
A ultradireita de Portugal e os bolsonaristas que vivem por lá
João Gabriel de Lima |
De Lisboa
Apernambucana Cibelli Almeida, de 53 anos, decidiu deixar o Brasil há mais de uma década depois de ser assaltada “umas vinte vezes” no Recife. Desde então, vive na cidade de Braga, no Norte de Portugal, onde trabalha no ramo de comunicação e recursos humanos. Em 2018, quando já estava longe do seu país havia sete anos, ficou feliz com a eleição de Jair Bolsonaro para a Presidência da República. Almeida está entre os primeiros filiados do partido da direita radical em Portugal, o Chega, criado em 2019. Ela é contra o direito de uma mulher interromper a gravidez e contra a abordagem de questões de gênero no ensino fundamental, que considera “uma intromissão do Estado em algo que deveria ocorrer no âmbito da família”. Apesar de ser uma imigrante brasileira em território português, Almeida também acha que as portas de um país não podem estar abertas a todos. Ela defende o que chama de “imigração responsável”, na qual “os imigrantes se adaptam à cultura do país que os recebe, em vez de tentar impor a própria cultura”.
Deve ter sido com alguma surpresa que, no final de 2020, Almeida foi ofendida publicamente por um militante do Chega, Filipe Melo, hoje deputado pelo partido. Almeida, que tem orgulho de ter sido a 501ª filiada do Chega – faz questão de incluir o número no pé biográfico de seus artigos em sites de direita –, considerava que Melo não deveria representar a cidade de Braga, por não fazer parte do núcleo que ajudou a fundar o partido no município. Em meio à disputa, Melo dirigiu-se a Almeida em sua página no Facebook nos seguintes termos: “Não vai ser uma BRASILEIRA que vai mandar nos destinos de um grupo nacionalista, patriótico. Nunca, não permitirem [sic].” A frase era tão claramente xenófoba que, pouco depois, o próprio Melo retificou a postagem, trocando BRASILEIRA – que grafara assim, aos gritos, usando letras maiúsculas – pela palavra “senhora”, e corrigiu o final: “Nunca, não permitirei”.
Ser alvo de xenofobia é doloroso em qualquer circunstância, mas quando a acusação vem de um companheiro de ideologia talvez seja ainda pior. E Almeida entendeu todas as implicações da mensagem de Melo: “Filipe me acusou por ser brasileira e, depois, por ser mulher”, disse ela, ao conversar com a piauí em seu escritório, próximo à estação de trem de Braga. “Foi xenófobo e machista no post e na retificação.” Almeida pediu demissão do cargo que ocupava no partido em Braga e entrou com uma representação contra Melo na Direção Nacional do Chega. Anexou um print do post no Facebook e acusou-o de “xenofobia”. Em 2 de fevereiro passado, o Chega lhe avisou por e-mail que abrira “um processo de contraordenação para averiguação dos factos atentos aos indícios de práticas discriminatórias em razão de nacionalidade”. Ou seja: disseram que estavam investigando e, até hoje, nada aconteceu.
Sair de um país, aderir à direita radical de outro país, ser hostilizada como estrangeira e continuar achando que está no lugar certo não é obra para qualquer um. Almeida passou a integrar um grupo de oposição interna, batizado de Os Originais, que defende que o partido seja mais firme na condenação ao aborto e no combate ao que a direita chama de “ideologia de gênero”, mas nem cogita deixar o Chega e continua admirando o líder nacional do partido, André Ventura, que concorreu à Presidência de Portugal no ano passado. “O André Ventura tem coragem de dizer coisas que ninguém diz, e não me vejo em outro partido além do Chega”, afirma ela, que promete recuperar sua antiga relevância dentro da sigla. “Ainda vou voltar por cima.”
Almeida já foi suspensa duas vezes do Chega. Na primeira vez, em razão de uma briga paroquial. Na segunda, porque se insurgiu contra uma ordem de André Ventura, conhecida como “lei da rolha”, cujo objetivo era evitar que os militantes do Chega falassem publicamente da vida interna do partido e ficassem xingando uns aos outros nas redes sociais. A brasileira entendeu que a ordem de Ventura atingia especialmente um dos grupos cristãos do qual ela faz parte. Por seu passado e sobretudo pelo seu presente, Almeida demonstra que é mais radical que a média do Chega.
Seu envolvimento com política começou ainda no Brasil na década de 1970, época em que sua família tinha ligações com a esquerda em Pernambuco. Na eleição de 1978, realizada em meio a um clima vibrante – era o começo da volta ao país dos exilados pela ditadura –, um tio seu, Hugo Martins, candidatou-se a deputado estadual. Seu companheiro de chapa era Roberto Freire, que concorria a deputado federal e, mais tarde, seria candidato à Presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o velho Partidão. Ambos foram eleitos. Almeida diz que foi envolvida pelo clima político da redemocratização, mas, na militância da vida adulta, optou por uma trilha ideológica diferente da de sua família.
Evangélica seguidora do teólogo Augustus Nicodemus – que foi pastor da Igreja Presbiteriana do Recife, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo e faz uma acirrada oposição às denominações neopentecostais –, Almeida começou sua militância em Portugal nos grupos religiosos. Juntou-se à Associação Família Conservadora, em Póvoa de Varzim, cidade vizinha a Braga. Depois, filiou-se ao CDS-PP, sigla que representa a democracia cristã portuguesa, mas achou que o partido não era suficientemente duro no combate à “ideologia de gênero”. Como defensora da revogação da lei do aborto, entrou para o pequeno Partido Pró-Vida (PPV), que, ao lado de outras legendas do mesmo campo político, acabou juntando-se a um movimento de direita radical que resultou na criação do Chega.
Entre todas as bandeiras que Almeida defende, o combate à “ideologia de gênero” é uma das mais expressivas. Quando militava na Associação Família Conservadora, ela conheceu a escritora portuguesa Maria Helena Costa. “Fui eu quem a despertou para esse assunto”, diz ela, referindo-se à “ideologia de gênero”. “Já era uma questão importante no debate político brasileiro, mas ainda não havia chegado à Europa com força.” Maria Helena Costa tornou-se uma das precursoras no combate à “ideologia de gênero” em Portugal e escreveu livros que se tornaram referência no meio conservador, nos quais defende que a educação sexual dos filhos é uma tarefa da família, e não do Estado.
Filipe Melo, o maior algoz de Almeida dentro do partido, ascendeu depois da briga com ela. Melo é próximo do líder André Ventura e, em janeiro passado, conseguiu sair candidato a deputado federal por Braga, apesar dos protestos dos autodenominados Os Originais na cidade. Abraçou o lema do Chega “Deus, Pátria, Família e Trabalho”, que remete às palavras de ordem do salazarismo, o regime ditatorial que infelicitou Portugal por intermináveis 41 anos. Elegeu-se como um dos doze deputados do Chega, a terceira maior bancada da Assembleia da República, o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil. É uma bancada pequena, se comparada aos 120 deputados do Partido Socialista (PS, de centro-esquerda) ou aos 77 deputados do Partido Social Democrata (PSD, de centro-direita). Mas é notável que, com apenas três anos de vida e uma ideologia radical, o Chega tenha logrado eleger doze de seus candidatos.
O partido é frequentemente comparado ao bolsonarismo e muitos brasileiros que vivem em Portugal identificam no estilo desbocado de André Ventura um quê de Jair Bolsonaro. Há diferenças, no entanto. Bolsonaro é um militar de carreira medíocre, que deixou o Exército depois de planejar um atentado a bomba. Tornou-se político profissional cultivando o voto de militares e defendendo a ditadura. E apenas a partir de 2010 descobriu os dividendos eleitorais de voltar-se para a pauta religiosa e de costumes, animado com a repercussão nas redes sociais da falsa polêmica do “kit gay”. Ventura é advogado e professor de uma faculdade de direito. É católico desde sempre e chegou a cursar o seminário para tornar-se sacerdote, intenção que mais tarde abandonou. Apesar de seu lema remeter ao salazarismo, ele não reivindica a herança autoritária do passado, um tabu em Portugal, e tenta se equilibrar entre as correntes internas do partido, sem se alinhar com as alas mais radicais.
A principal diferença entre o bolsonarismo e o Chega, no entanto, é outra. Segundo os critérios dos estudiosos da direita europeia, o Chega é classificado como “direita radical” – um partido político que quer transformar radicalmente a sociedade, mas a partir de meios parlamentares e sem conexão com autoritarismos do passado. Pelo mesmo diapasão, Bolsonaro, sendo um saudosista da ditadura militar brasileira que elogia recorrentemente torturadores e fustiga as instituições com ameaças golpistas, entra numa categoria abaixo – a de “extrema direita”.
Orestaurante O Madeirense fica no Amoreiras Shopping Center, prédio esfuziante no estilo Miami Beach encravado numa região rica de Lisboa. Em julho de 2017, André Ventura almoçou ali com o publicitário João Gomes de Almeida – e esse almoço pautou o início de sua carreira política. Embora tivesse algum prestígio como comentarista de futebol, Ventura, torcedor do Benfica, era pouco conhecido pelos executivos e empresários que frequentam o restaurante.
Na época, o comentarista era militante do PSD e preparava sua candidatura à Câmara Municipal de Loures, município da Área Metropolitana de Lisboa e reduto tradicional da esquerda. Por isso, era um posto pouco cobiçado, visto que as chances de o PSD vencer o pleito e eleger o presidente da Câmara local – posto que equivale ao de prefeito no Brasil – eram praticamente nulas. Ventura e Gomes de Almeida se conheciam há muito tempo. No final dos anos 2000, Gomes de Almeida tivera um escritório ao lado da editora onde um jovem Ventura, aspirante a escritor, publicava livros que nada tinham a ver com política – eram romances, alguns com conteúdo erótico. Logo reconheceram suas afinidades ideológicas à direita e passaram a assinar colunas em veículos de imprensa.
No almoço, Ventura estava desanimado com os baixos índices do PSD nos levantamentos feitos em Loures. Gomes de Almeida, leitor experiente de pesquisas, mostrou ao comentarista que havia números que mereciam ser analisados – e eles sinalizavam uma oportunidade. Cerca de 80% dos eleitores diziam que o principal problema de Loures era a violência. E cerca de 80% desses eleitores associavam a violência aos ciganos. O PSD, no entanto, nunca havia levantado essa questão por suas implicações delicadas. Era a chance de Ventura fazê-lo – e se diferenciar. Como advogado e professor de direito, o tema da segurança pública não soaria artificial em sua boca. Era a bandeira da xenofobia sendo hasteada.
Ventura gostou da ideia e resolveu colocá-la em prática no mesmo dia. Em entrevista a um jornal digital, falou da violência e criticou violentamente a comunidade cigana – a qual, em sua avaliação, vivia quase que exclusivamente de subsídios do Estado. Abriu caminho para uma expressão que até hoje é um de seus motes: “subsídio-dependência”. Choveram críticas da esquerda e do próprio PSD. Quando Ventura voltou a almoçar com Gomes de Almeida no Madeirense, surpreendeu-se com o número de executivos e empresários que vieram cumprimentá-lo pela “coragem”. Deixara de ser um desconhecido para eles. O discurso contra os ciganos se tornou recorrente em sua campanha, mas não bastou para vencer a eleição em Loures. Nascia ali, no entanto, seu estilo e o estilo de seu partido: falar sem freios e sem censura sobre temas evitados pela maior parte dos políticos, sem se importar se a linguagem fere os princípios básicos do espírito democrático, do convívio civilizado e do respeito ao próximo.
O episódio está narrado de forma breve no livro A Nova Direita Anti-Sistema – O Caso do Chega, do cientista político italiano Riccardo Marchi, que vem estudando com afinco as diferentes facetas da direita europeia. Em entrevista à piauí concedida no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), onde dá aulas, Marchi fez uma avaliação de Ventura. Segundo ele, trata-se de um político extremamente intuitivo, pouco ideológico, com boa oratória e grande sensibilidade para identificar temas que causam comoção nas redes sociais – é o “político soundbite”, no jargão dos publicitários portugueses. Ou seja: um político que se orienta por bordões que rendem barulho e engajamento.
Com a ajuda de admiradores de sua “coragem”, como a brasileira Cibelli Almeida, Ventura saiu do PSD e fundou o Chega. Conquistou uma cadeira na Assembleia da República em 2019 e, no início de 2021, concorreu à Presidência da República. Era, de novo, uma empreitada sem esperança de vitória, mas o objetivo era debater na televisão, em horário nobre, com outros candidatos – entre eles, o presidente em exercício, Marcelo Rebelo de Sousa, de seu ex-partido, o PSD. No programa com Rebelo de Sousa – são tradicionais os debates televisivos com apenas dois candidatos em Portugal –, Ventura exibiu uma foto do presidente com uma família da Área Metropolitana de Lisboa, onde acontecera um confronto violento com policiais, e acusou-o de posar ao lado de “bandidos”. Era uma família de negros.
“Eu não tenho medo de ser politicamente incorreto, de chamá-los pelos nomes que têm de ser chamados e dizer o que tem de ser dito”, afirmou no debate. “Eu nunca vou ser presidente dos traficantes de droga, nunca vou ser presidente dos pedófilos, nunca vou ser presidente dos que vivem à conta do Estado, com esquemas de sobrevivência paralelos.” E repetiu o argumento tradicional que mistura xenofobia com racismo: “Muitos destes indivíduos vieram para Portugal para beneficiar-se única e exclusivamente daquilo que é o Estado social.” Encerrou martelando outro slogan, já muito conhecido nos trópicos, que o acompanha até hoje: “Quero ser o presidente dos portugueses de bem.” Ventura foi processado, perdeu, mas não pediu desculpas. “Continuo a defender que não utilizei uma linguagem racista […], e continuo a entender que em política esta linguagem não pode estar proibida. […] Eu aceito a decisão da Justiça, mas não vou mudar a minha forma de ver, nem vou mudar a minha linguagem no espaço público”, disse, em entrevista ao jornal Diário de Notícias.
Em depoimento ao livro de Riccardo Marchi, o marqueteiro Gomes de Almeida defende o amigo Ventura das acusações de racismo – a incontinência verbal seria, segundo seu raciocínio, apenas fruto de sua obsessão pelo soundbite. “Na minha opinião de publicitário, o André difere de todos os outros da direita mais radical, ou até da extrema direita se queremos chamá-la assim, precisamente por isso: o André teve uma base católico-cristã muito forte, muito enraizada, que tem o princípio humanista por trás. Portanto, há sempre um limite que é muito engraçado ver no André quando diz ‘eu sou contra o aborto, mas nunca prenderia uma mulher por isso, sou a favor da prisão perpétua, mas sou contra a pena de morte’. Há uma série de coisas em que a barreira do humanismo cristão esbarra.”
Asede do Chega no Porto, centro da segunda maior região metropolitana de Portugal, fica num pequeno prédio de escritórios em frente a um shopping center. Tem dois ambientes. Um deles é um cenário para gravações de entrevistas em vídeo, com duas poltronas e um logotipo do partido atrás. O outro é um pequeno auditório, onde são dados cursos de formação. Foi nesse auditório que o carioca Marcus Santos, de 43 anos, um dos dirigentes do Chega no Porto, deu entrevista à piauí e contou sua história de vida.
Filho de um militar, Santos cresceu vendo seu pai receber cartas da família Bolsonaro pedindo votos. Tornou-se um bolsonarista sem esforço. Na adolescência, como praticante de lutas marciais na conhecida academia de jiu-jítsu da família Gracie, foi convidado para participar de um torneio na Flórida. Foi e decidiu ficar nos Estados Unidos. “Emigrei com apenas 100 dólares no bolso, fui morador de rua e acabei adotado por uma família haitiana que morava num bairro social”, diz, referindo-se a uma região pobre destinada a habitações populares. Santos foi para a escola, aprendeu inglês, legalizou-se e fez carreira como empresário de lutas marciais. Tornou-se sócio de quatro escolas na Flórida.
Em 2008, trocou os Estados Unidos por Portugal, onde instalou outras seis escolas de lutas marciais – e resolveu entrar para a política. Primeiro, pensou em militar no CDS-PP, o mais tradicional partido de direita do país. “Nunca me entusiasmei muito porque o CDS na verdade era de centro-direita”, diz Santos. Pelas redes sociais, ele ficou sabendo da mobilização para a criação do Chega e, a exemplo de Cibelli Almeida, também ajudou a recolher assinaturas para a criação do partido. “Só com o Chega tivemos um partido de direita de verdade em Portugal.”
Pois foram militantes do Chega que começaram com ataques racistas contra Marcus Santos, que é negro e casado com uma mulher branca. Um post numa rede social se dirigia diretamente a Santos dizendo o seguinte: “Tu como preto invasor deverias ir embora da Europa! Não és europeu e ainda meteste um filho mulato numa branca! Estás a ajudar para o fim da Europa!” Os ataques racistas ainda vieram acompanhados por um meme insultuoso: uma foto do rosto de Santos era colocada no corpo de um macaco. O caso foi tema de uma reportagem de um site de direita, no qual o próprio Santos atribuiu o ataque a militantes do Chega, que, aparentemente, queriam o posto que ele ocupava. Achou, no entanto, que a ofensa não tinha maior importância.
“O partido é acusado de ser racista e xenófobo, mas isso não é verdade. Sou o exemplo vivo. Posso dizer com propriedade que nunca tive problemas por ser brasileiro e ser negro. Se houvesse racismo no Chega eu não ocuparia a posição que ocupo atualmente”, diz Santos. Hoje, ele exerce uma função de confiança no diretório do partido no Porto, que é presidido por Rui Afonso, um dos doze deputados da bancada do Chega na Assembleia da República. (Afonso é bancário e se notabiliza pela defesa da prisão perpétua e da castração química para pedófilos.) Santos acha que racista, mesmo, é a esquerda. “Sofro mais com ataques da esquerda do que da direita. Os esquerdistas me chamam de ‘preto do Chega’ ou ‘capitão do mato’. A esquerda acha que as minorias são propriedades dela, mas a escravidão acabou. Movimentos de negros de direita, ou de homossexuais de direita, estão crescendo no mundo inteiro.”
Se a ultradireita não é racista, também não é xenofóbica. Tanto que Santos não condena os ataques do Chega aos ciganos. “Nada temos contra os ciganos, mas achamos que eles devem se integrar à sociedade”, diz. “E o que se vê é que muitos não procuram fazer isso. Eles vivem num mundo à parte, não respeitam a cultura do país. Por exemplo, casam-se com menores de idade. O André Ventura teve a coragem de colocar o dedo na ferida. Ele mostrou que existe um problema, e quando escondemos os problemas ficamos sem encontrar a solução.”
Santos sente-se tão à vontade no bolsonarismo quanto no Chega, pois vê semelhanças entre os dois: “São movimentos patrióticos e defendem os nossos valores conservadores.” Ele se diz um defensor da família tradicional – ponto número 1 do programa eleitoral do Chega – e, tal como sua conhecida Cibelli Almeida, também gostaria de ver na Assembleia da República um deputado que se insurgisse contra a “ideologia de gênero”. Ele explica: “Nada tenho contra homossexuais, tenho homossexuais na família, mas não acho que deva haver intromissão do Estado para incentivar isso.” Na sua opinião, aulas de educação sexual ou de temática inclusiva nas escolas podem ser um incentivo à homossexualidade – mais ou menos como se ensinar nutrição e promover o respeito e a inclusão de quem está acima do peso pudesse ser um incentivo à obesidade.
O objetivo central que Santos atribui ao Chega é derrubar o Partido Socialista do poder. Na última eleição, no entanto, o PS obteve uma votação consagradora, que lhe garantiu – pela segunda vez na história, depois de dezessete anos – maioria absoluta na Assembleia da República. Uma das razões para uma vitória tão expressiva está no próprio Chega. Os analistas afirmam que os socialistas se beneficiaram do voto útil dos eleitores que temiam, no caso de vitória do PSD, uma aliança que incluísse os radicais do Chega. “A direita se dividiu, essa foi a razão da nossa derrota”, diz Santos.
Enquanto Marcus Santos se sente perfeitamente integrado ao Chega, Os Originais de Cibelli Almeida em Braga, ao Norte do Porto, continuam descontentes. A comerciante portuguesa Mónica Lopes é líder da única corrente oficial de oposição dentro do Chega – batizada de “Democracia e Transparência” – que inclui Os Originais de Almeida. Essa corrente considera que o partido não é suficientemente enfático na defesa de valores religiosos, como os de Almeida, nem dos valores nacionalistas, brandidos por Mónica Lopes. Ela é dona de uma ótica, que durante muito tempo serviu como sede informal do Chega na cidade. Por causa de divergências políticas, seu negócio chegou a ser vandalizado por militantes do próprio partido que se opunham a ela. Encontrei Lopes na frente de sua ótica, já devidamente recuperada do episódio, e conversamos sobre a militância dela, sua ideia de nacionalismo e suas divergências com a cúpula do partido.
A história de como Lopes se aproximou do Chega é parecida com a dos brasileiros Almeida e Santos. Ela nunca havia militado antes em um partido político, soube do Chega pelas redes sociais e ajudou na coleta de assinaturas que viabilizou a homologação da sigla em abril de 2019. Na primeira reunião do novo partido, ficou impressionada com o fato de ser a única mulher. Lutou para aumentar a presença feminina. Logo Lopes e suas amigas estavam fazendo barulho nas redes sociais que congregam a direita de Braga. Apesar dos esforços da militante, o Chega continua sendo um partido predominantemente masculino. Entre os doze representantes na Assembleia da República há uma única deputada, Rita Matias, de 23 anos, que lidera a ala jovem do partido.
Lopes considera que o nacionalismo é um dos pilares do Chega. Por “nacionalismo”, ela entende, entre outras coisas, maior controle da imigração. Mas quais seriam os critérios? “O critério é cultural. Brasileiros e ucranianos fazem parte da cultura ocidental, como nós. São cristãos, os brasileiros falam a nossa língua, e os ucranianos aprenderam português”, diz ela. E quem ficaria de fora? “Veja Paris, por exemplo. O que menos há por lá são cristãos europeus. Muitos muçulmanos não aceitam nossa cultura e as nossas leis, oprimem as mulheres. Se estão na nossa casa, deveriam se integrar ao nosso modo de vida.” Ela não tem opinião sobre os ciganos. “É um problema que não temos aqui no Norte, pois aqui não há ciganos. O foco do Chega sobre eles ocorre porque o partido nasceu em Lisboa”, diz.
Suas divergências com a cúpula da legenda, no entanto, não são só ideológicas. Elas se devem também à luta política regional. “Eles afastaram aqueles que lutaram pela fundação do partido para colocar nomes ligados à cúpula”, diz Lopes. Em Braga, o nome em questão é o do deputado Filipe Melo, o mesmo que vociferava nas redes contra a “BRASILEIRA”. Mónica Lopes diz que Melo se tornou o nome do Chega em Braga por seu parentesco com Eduardo Melo Peixoto, o Cónego Melo, religioso de extrema direita que, nos anos 1970, era um combatente radical do comunismo.
Para questionar o que considera “amiguismo e nepotismo” dentro do partido, Lopes inscreveu uma chapa de oposição no IV Congresso Nacional do Chega, realizado em novembro do ano passado, em Viseu, na região central de Portugal. Para além de Os Originais, arregimentou descontentes no país inteiro. Conseguiu eleger 17 de 70 delegados e se tornou a líder do principal grupo de oposição no seio do Chega. No partido, eles são vistos como os radicais dentro de um partido radical.
Outros descontentes preferiram sair a participar da luta interna, como a escritora Maria Helena Costa, que lançou livros sobre ideologia de gênero incentivada por Cibelli Almeida. A gota d’água foi a adesão ao Chega de uma ex-deputada pelo Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza (PAN). A ala religiosa do Chega criticou por suas posições “pró-aborto, pró-liberação da canábis, feminista e defensora da comunidade LGBTQIA+”, como destacou um site da direita radical portuguesa.
A programadora de computadores portuguesa Lucinda Ribeiro, dona da ficha de filiação número seis do Chega e, durante muito tempo, responsável pelas redes sociais da sigla, também caiu fora. Ela era um quadro histórico da ala religiosa do partido. “Não basta usar o nome de Deus, lembrem-se que ele vê o que fazem em segredo e, para ele, as pessoas são o mais importante”, disse ela, que é evangélica, ao semanário português Visão. Um dos motivos de sua saída foi o fato de o Chega não tomar uma posição radical contra a exigência do certificado de vacinação durante a pandemia, medida que ela considerou “nazi, discriminatória e inconstitucional”.
“Lucinda era uma das pessoas mais importantes do Chega, pelo número de filiados que arregimentou nas redes sociais”, informa a brasileira Sonia Coelho, que durante um bom tempo administrou a página Chega Brasil no Facebook. Nascida em Santo André, Coelho diz que se mudou para Portugal por causa da violência. “Também fiquei desgostosa com a destruição que o PT estava fazendo no país, em especial na minha cidade.” Coelho se estabeleceu no Porto, onde faz trabalhos de assessoria e consultoria na área de comunicação. Também se desfiliou do Chega e acha que os militantes portugueses, ao contrário dos bolsonaristas, são muito passivos. “A direita brasileira é mais politizada e deu um grande exemplo saindo às ruas para reivindicar seus direitos. Sinto falta disso em Portugal”, diz. Ela segue, no entanto, votando no Chega. “Portugal está há 48 anos sendo governado por PS e PSD, que são como PT e PSDB no Brasil. Pode-se dizer, assim, que Portugal é um país socialista. Ventura saiu do PSD por causa disso, porque queria fundar um partido que fosse realmente de direita. O Chega é isso.” Coelho, a crítica do PT, acabou por viver num “país socialista”.
Omoçambicano Gabriel Mithá Ribeiro, um dos doze deputados da bancada do Chega, lembra-se da data em que foi convidado a juntar-se ao movimento que mais tarde se transformaria num partido: 6 de setembro de 2018, o mesmo dia em que Jair Bolsonaro foi ferido a faca por Adélio Bispo em Juiz de Fora. “Os portugueses zombam do estilo de Bolsonaro, considerado meio ridículo por aqui, mas ele se adequa perfeitamente ao Brasil”, afirma Mithá. “Eu o considero um verdadeiro herói. Que outro político continuaria sua trajetória após sofrer um atentado, e com tanto êxito?” Para Mithá, o bolsonarismo é comparável à Revolução Russa. “A Rússia era um país periférico, lançou ao mundo uma causa da qual eu discordo, mas se tornou relevante por causa disso. Quem sabe a nova direita não se afirma no mundo a partir de outro país periférico – o Brasil?”
Mithá é vice-presidente do Chega e dirige o gabinete de estudos recentemente criado pela sigla. Sua missão é desafiadora: transformar o eco dos sound-bites de André Ventura num programa político coerente. Filho de pai católico e mãe islâmica, Mithá nasceu em Moçambique em 1965, tem ascendência indiana, africana e árabe, e fez uma carreira acadêmica sólida. É historiador pela Universidade de Lisboa e tem mestrado e doutorado em estudos africanos – sua obra questiona a existência do racismo no Ocidente. Sob sua coordenação, o Chega lançou dois programas: um político e outro eleitoral. “O primeiro é para ser algo mais permanente, uma espécie de declaração de princípios do Chega”, diz ele, entre pataniscas (lascas de bacalhau fritas em massa de farinha) e bifinhos de carne de porco numa tasca próxima à Assembleia da República. “O segundo é uma aplicação desses princípios a um contexto específico, o das eleições de janeiro deste ano.”
Parte do que está no programa ecoa seus escritos acadêmicos. “Minhas ideias já eram as ideias do Chega antes mesmo de o Chega existir”, diz Mithá. Ele se orgulha de que seu texto parte de uma “matriz moral”. “As direitas se preocupam muito com economia, que é importante, mas não é o fundamental. Em nosso programa político, a economia só aparece no fim.” Na “matriz moral”, o programa do Chega se coloca a favor da “autorresponsabilização” – que, segundo Mithá, define o pensamento de direita e é o oposto da “vitimização” da esquerda. “A ideia de que cada indivíduo é responsável por seus atos é a base da civilização greco-romana e judaico-cristã”, diz. “A partir da Revolução Francesa, a esquerda colocou o princípio da solidariedade acima da autorresponsabilização. Não somos contra a solidariedade, mas ela vem depois. Se vier antes se cai na vitimização.”
O programa eleitoral do Chega, por sua vez, foi bastante criticado pela concisão excessiva – “o partido tem mais deputados que ideias”, disse uma comentarista de televisão. “Realmente, tivemos pouco tempo para desenvolvê-lo, mas lá estão as linhas gerais”, reconhece Mithá. O programa é vago em relação às causas defendidas pelos Originais, como o combate à “ideologia de gênero”. “O Chega não pode ficar conhecido apenas como o ‘partido anti-LGBTQIA+’ ou o ‘partido anticiganos’”, diz o médico Jerónimo Fernandes, um dos líderes do Chega na região do Porto e um dos ideólogos da sigla. “Seria empobrecer um partido que pretende agregar várias alas do movimento conservador.”
Em vez de detalhar questões comportamentais, como gostariam alguns militantes de Braga e do Porto, o programa eleitoral coordenado por Mithá prefere determinar claramente o inimigo. O documento tem catorze itens, e todos eles começam com a expressão “contra os socialismos”. O plural se refere aos dois maiores partidos portugueses, o PS e o PSD, que a direita radical do Chega considera, ambos, “de esquerda”.
Se não é um “partido anticiganos” na teoria, a prática sugere o contrário. Mithá considera que contradizer o “politicamente correto” faz parte de um ambiente de liberdade de crítica. “A esquerda criou um ambiente de histeria, em que não se pode criticar determinados grupos. Isso é ruim para os próprios grupos. Por que os brancos não podem criticar os negros, os homens não podem criticar as mulheres, os cristãos não podem criticar os muçulmanos? A crítica deve ser sempre livre, em todas as direções”, diz Mithá. “E por que André Ventura não pode colocar o dedo na ferida no caso dos ciganos?” Ele considera que “criticar” é diferente de “agir” – não concorda que, na boca dos políticos, as palavras adquirem um peso e uma importância maiores do que quando são usadas em conversas de botequim.
Mithá cita a palavra “histeria” a partir de um autor pelo qual nutre profunda admiração: Olavo de Carvalho, o ex-astrólogo brasileiro que morreu no início deste ano. “Li todos os livros importantes dele, e ainda vou escrever um apenas compilando suas melhores frases”, diz. Enquanto não lança o livro, ele posta pérolas do olavismo em sua página no Facebook. Até a redação desta reportagem já eram 78 publicações. Mithá me mostra uma delas: “Um grau elevado de imbecilidade moral coincide aí com a perfeita representatividade […] de qualidades morais e intelectuais fictícias. Não conheço um só líder esquerdista, petista, gayzista, africanista ou feminista que não corresponda a essa descrição, que corresponde por sua vez ao quadro clássico da histeria.” Para Mithá, “trata-se de um pensador de elevada estatura, capaz de traduzir raciocínios complexos em frases simples”.
Até onde se tem notícia, Olavo de Carvalho nunca foi hostilizado ou xingado por militantes do Chega. Brasileiro, vivia nos Estados Unidos. Era homem e branco.










































